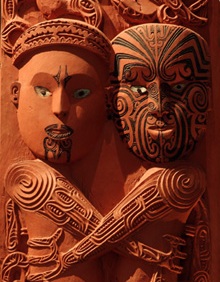Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O termo
pré-história do Brasil também era usado para se referir este período, mas foi abolido por vários motivos. Devido o termo "
pré-história" modernamente ser combatido por alguns acadêmicos, pois parte de uma visão
eurocêntrica de mundo, na qual os povos sem escrita seriam povos sem história (prefixo “pré” indica anterioridade, ou seja, período “anterior à
história”). No contexto da história do Brasil, essa nomenclatura não aceitaria que os
indígenas tivessem uma história própria.
[1] Por essa razão, costuma-se hoje denominar esse período histórico como pré-cabralino.
A pré-história tradicional geralmente se divide nos períodos
paleolítico,
mesolítico e
neolítico. Porém, atualmente, essa periodização tem sido revista no mundo todo. No Brasil, alguns autores preferem trabalhar com as
épocas geológicas do atual
período quaternário: o
pleistoceno e o
holoceno.
[2] Neste sentido, a periodização mais aceita se divide em: pleistoceno (caçadores e coletores com pelo menos 12 000 anos atrás) e holoceno, sendo que este último pode ser subdividido arcaico antigo (12 000 a 9 000 anos atrás), arcaico médio (9 000 a 4 500 anos atrás) e arcaico recente (de 4 000 anos atrás até a chegada dos europeus). Acredita-se que os primeiros povos começaram a habitar a região onde hoje se situa o território brasileiro há 60 mil anos. Recomenda-se o uso da abreviação
a.p. (antes do presente) para referir-se aos anos de acontecimento de cada período.
Metodologia de estudo
O Estudo da
história brasileira antes de 1500 é feito, sobretudo, por meio da
arqueologia, uma vez que os povos que ocuparam o território onde hoje se encontra o
Brasil não possuíam, até onde sabemos,
escrita.
[3][2] Estudos linguísticos, etnológicos e históricos têm auxiliado as pesquisas arqueológicas na medida do possível. No entanto, poucos foram os autores que tentaram reconstruir essa história de forma panorâmica (e as tentativas dos arqueólogos de estabelecer uma visão geral da história Pré-Cabralina não se provaram satisfatórios).
[2] Para complicar mais a situação, ainda falta muito a ser feito em vários níveis de pesquisa – registros de línguas e comparações, análise de materiais escavados, relações entre sítios diversos da antiguidade e outros do período colonial, etc.
[2]O primeiro estudioso a se indagar sobre o passado brasileiro foi o dinamarquês
Peter Wilhelm Lund.
[2] Este naturalista foi responsável pelo estudo de várias reminiscências de plantas antigas nas grutas da região de
Lagoa Santa (
Minas Gerais), onde se fixou, entre 1834 e 1880.
[2][4] Em suas buscas, chegou a encontrar ossos humanos misturados a esses vestígios pré-históricos, um dos primeiros achados que contradizia a teoria da
criação bíblica. Foi o primeiro a defender a antiguidade do homem americano, baseado em achados arqueológicos, mas não conseguiu convencer a comunidade científica de sua época.
[2]Sambaquis
Os
sambaquis, montes de conchas e outros resíduos acumulados por ação humana, foram vestígios arqueológicos responsáveis por suscitar considerável debate científico no século XIX.
[4] O diretor do
Museu Nacional – que junto do
Museu Paulista representava o interesse oficial acerca dos fatos histórico-arqueológicos no Brasil –, Landislau Neto, enviou as primeiras expedições científicas para estas regiões. Após anos de pesquisas, essas missões alegaram que "montes de conchas" teriam formação antropogênica, isto é, origem humana. Hermann Von Ihering, contudo – o diretor do Museu Paulista – primeiramente se opôs a essa visão, dizendo que os restos de conchas teriam sido formados por fenômenos naturais e intertropicais.
[2]
Para saber mais, clique sobre as palavras mais informaçoes em letras pequenas, abaixo.
Entre 1880 e 1900 ocorreram as primeiras escavações na
Amazônia.
[1][2] Descobertas extasiantes de cerâmicas marajoaras foram realizadas nesse período
[1], e foram analisadas em 1882 pelo egiptólogo Paul l´Epine, que acreditava identificar na cerâmica indígena grafias egípcias e asiáticas.
Emílio Goeldi também realizou, nesta época, pesquisas importantes no norte.
[5] O austríaco J.A. Padberg-Drenkpohl, contratado após a Primeira Guerra Mundial pelo
Museu Nacional, foi outra figura importante da história da arqueologia brasileira, que escavou, entre 1926 e 1929, em
Lagoa Santa. Seu objetivo era encontrar vestígios em Lagoa Santa que comprovassem os achados clássicos de
Lund. Drenpohl, contudo, não foi bem sucedido em sua empresa, tendo passado a criticar os defensores da antiguidade do homem de Lagoa Santa. Em 1934, pouco depois da última expedição de Drenkpohl, Angione Costa publicou o primeiro manual de arqueologia brasileira.
[2]Depois de 1950 a arqueologia oficial se contraiu, enquanto aumentou o número de amadores que passaram a realizar pesquisas no país. Um desses foi Guilherme Tiburtius,
imigrante alemão em
Curitiba, que teria realizado uma das buscas mais importantes de antiguidades indígenas pelo Brasil, coletando artefatos para sua coleção (recebida pelo Museu do Sambaqui de
Joinville). Estudou o litoral catarinense e o planalto paranaense, tendo sido auxiliado pela
Universidade Federal do Paraná em suas pesquisas. Harold V. Walter, cônsul inglês em
Belo Horizonte, foi responsável por buscas no Estado de
Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. A despeito de ter empregado uma metodologia pouco válida para os dias atuais, contribuiu muito para a coleta de informações sobre a era pleistocênica. Ainda nessa época, foram realizados esforços substanciais no sentido de se preservar o patrimônio histórico brasileiro. Graças ao esforço de diversos intelectuais, o Instituto de
Pré-História da
USP (atualmente integrado ao
MAE)
[6] foi criado, enquanto, alguns anos mais tarde(1961), uma nova legislação sobre o patrimônio era promulgada.
[2] Acompanhando esse avanço na questão de preservação da memória brasileira, havia sido realizadas escavações na foz do
amazonas, por Clifford Evans e Betty J. Meggers entre 1949 e 1950, descobrindo importantes artefatos cerâmicos, e em
São Paulo e no
Paraná entre 1954 e 1956 por Joseph Emperaire e Annette Laming – onde foram feitas as primeiras datações carbono catorze.
[2][7]A história recente da
arqueologia no
Brasil inclui a criação da PRONAPA (Projeto Nacional de Pesquisas Arqueológicas)
[8] com o auxílio do
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
[9], que teria como objetivo realizar buscas para fornecer um panorama mais completo do passado histórico-cultural brasileiro. Enquanto isso, instituições como o
Museu Nacional, o
Museu Paulista e o instituto de Pré-História realizaram pesquisas isoladas, enquanto o Museu Emílio Goeldi se lançou num projeto chamado PRONAPABA (Projeto Nacional de Pesquisas Arqueológicas na
Bacia Amazônica). Vários estudos foram realizados desde então sobre os
sambaquis, a pintura rupestre brasileira
[1] e a indústria lítica antiga. Em 1980 foi criada a primeira Sociedade de Arqueologia Brasileira.
[10][11] O ensino de
arqueologia é hoje ministrado no
Brasil, embora de forma limitada.
[4]Pleistoceno: (60 000 - 12 000 a.p.)
Ocupação do território
A ocupação do território americano é um tema que tem gerado controvérsias substanciais, sobretudo porque muitos arqueólogos ainda são reticentes em aceitar que o homem possa ter chegado à América por outras vias que não o estreito de
Bering.
[1] Segundo a teoria tradicional, também conhecido como
Teoria de Clóvis, o homem “pré-histórico” teria migrado da região atual da
Mongólia para o
Alasca atravessando a
Ponte Terrestre de Bering.
[12] Não obstante, descobertas efetuadas em sítios arqueológicos brasileiros têm colocado em questão a validade desta teoria.
[1] No
Piauí, por exemplo, foi encontrado um fóssil de
Ancylostoma duodenale com a data de 7750 anos A.P. De acordo com alguns arqueólogos, essa espécie não poderia ter sobrevivido à travessia na Beríngia, pois teria morrido com o frio. Assim, acreditam que a existência do fóssil indica a migração de povos oriundos de regiões quentes do globo. Achados em
Minas Gerais e na
Bahia foram datados entre 25000 a 12000 anos A.P.
[1] No
sítio arqueológico Alice Boer, em
São Paulo, foram encontradas peças com idade de 14200 A.P.
[13] Em
São Raimundo Nonato, no Piauí, os arqueólogos defendem a idade de 50 000 anos para um abrigo ocupado pelo homem “pré-histórico”.
[1] Ainda neste mesmo sítio, os arqueólogos conseguiram encontrar artefatos humanos que remontassem a mais de 48 mil anos A.P.
[14]As descobertas no
Brasil polemizaram a visão tradicional da ocupação da América.
[15] Os arqueólogos passaram a defender outras teorias sobre as grandes migrações, entre elas, a de que o homem teria chegado à
América entre cerca de 150 mil e 100 mil anos atrás, vindo por correntes Malásio-Polinésias (oriundas do sudeste asiático) ou australianas (oriundas do pacífico sul), enquanto outros autores ainda pensam numa corrente migratória originada na
África. Contribuem para a definição dessas teorias as similaridades entre os vestígios materiais encontrados na América com aqueles encontrados na
Oceania. De qualquer forma, pode-se admitir hoje de forma geral que o Brasil foi ocupado há 60 mil anos atrás, no que diz respeito ao Piauí.
[16] As correntes migratórias teriam atingido Minas Gerais há 30 mil anos e o
Rio Grande do Sul, há 15 mil anos.
[17]Todo o país estava ocupado há 12 mil anos.
Luzia

Reconstituição computadorizada de
Luzia, o fóssil mais antigo das Américas
Neves aventou a hipótese de que, portanto, a ocupação da América foi mais antiga do que até então se imaginava, embora não recuando muito no tempo (cerca de 14 mil anos antes do presente), e que foi realizada por povos de regiões distintas, como a Oceania e a África.
[19] Essa tese não foi muito bem recebida por alguns cientistas.
[18] De acordo com a
National Geographic, além de as raças não serem uma maneira científica de classificar seres humanos, as diferenciações entre os grupos humanos só surgiram após 9,5 mil anos.
[20]O povo de Luzia
Os estudos realizados na região habitada por
Luzia e outros paleoíndios demonstram que eles desconheciam a cerâmica e que sua indústria lítica era relativamente simples.
[21]Pesquisas recentes, contudo, afirmam que esses homens eram
sedentários. Achados como enterros numerosos e uso de matérias-primas existentes apenas neste local reforçaram estas ideias. Uma análise das cáries nos dentes destes americanos demonstra que eles, embora não tivessem
agricultura, se aproveitavam intensamente de recursos
vegetais.
[22]Holoceno no Brasil (12 000 – 4000 a.p.)
Os arqueólogos denominam por
fase um complexo cultural onde os elementos são intimamente associados. Por
tradição, os arqueólogos entendem as práticas e técnicas padrão dos antigos para a confecção, por exemplo, da indústria lítica e da
pintura rupestre. Uma subtradição é uma divisão dentro da tradição, normalmente porque houve uma diferenciação do padrão original em dois ou mais padrões novos.
No final do período pleistocênico a temperatura variou amplamente em fases de expansão e contração das geleiras. Acredita-se que as temperaturas eram mais frias no pleistoceno do que no holoceno, quando sofreram um aumento considerável. No começo do período arcaico médio, o nível do mar se encontrava 10 metros abaixo do atual. Muitas regiões do país, como o
Piauí, por exemplo, eram muito mais úmidas do que o são hoje.
[18]Nordeste e centro-sul do Brasil
.JPG/220px-Sambaqui,_MAE-USP_(2).JPG)
Modelo de
sambaqui do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo
A idade
paleolítica brasileira é normalmente situada entre 12 mil e 4-2 mil anos antes do presente, quando do surgimento e difusão da prática agricultora na região.
[23] Antes disso, os homens viviam de caça, pesca e coleta, fato comprovado por achados arqueológicos e representações em pinturas pré-cabralinas. Nesta época, os arqueólogos constataram a existência de diferentes tipos de indústria lítica em diversas regiões do Brasil. No
nordeste, vários
sítios arqueológicos indicam o desenvolvimento da
pedra lascada, contendo lesmas (artefato lítico em forma de
lesma utilizado para raspar suportes de madeira), lascas, furadores e fogões para assar caça. A pintura rupestre era realizada nesses primeiros sítios.
[18]Na região nordeste, as técnicas de trabalho com o material lítico se tornam cada vez mais diversificadas e complexas com o passar do tempo. O número de fogões, por exemplo, aumenta conforme as datações se aproximam do ano 8 mil antes do presente. Fogueiras também são encontradas.
[23][24]As
pinturas rupestres dessa região têm se revelado profundamente instigantes. Na Toca do baixão da Perna 1, por exemplo, (na área arqueológica de
São Raimundo Nonato) foram encontradas pinturas rupestres que datam de 10500 anos atrás. No sítio do boqueirão da Pedra Furada, inúmeras pinturas rupestres em pigmento vermelho foram encontradas. Os autores identificam a tradição de pintura desta área como
tradição nordeste.
[25] Além da tradição nordeste, foram identificadas subtradições como a
Várzea Grande (sudeste do
Piauí) e a
Seridó (
Rio Grande do Norte). As figuras mais abundantes representam seres humanos, plantas e animais, mas também são encontrados grafismos puramente abstratos. Algumas paredes de caverna representam cenas de caça e celebrações rituais. De acordo com alguns arqueólogos, os temas de
violência na pintura rupestre antiga estariam vinculados ao desenvolvimento técnico obtido nos anos subsequentes, responsável por promover estratégias de caça mais eficientes. A tradição nordeste se encerra há cerca de 5 mil.
[26]Na região central e nordeste, uma importante tradição cultural foi identificada pelos estudiosos: a
tradição Itaparica (
Goiás,
Minas Gerais,
Pernambuco, Piauí). Essa tradição teria desenvolvido
ferramentas líticas lascadas como lesmas, furadores e facas, mas poucas
pontas de projéteis. Os povos dessas regiões teriam mudado sua forma de vida cerca de 6500 anos atrás, quando teriam passado a se alimentar de
moluscos e frutos. No centro do país, uma tradição de pintura rupestre denominada
Planalto teria se desenvolvido.
As datas mais antigas no Sul são atribuídas à
tradição Ibicuí (entre 13 000 e 8500 anos), composta de artefatos simples, encontrados na
Bacia do Uruguai.
[1][2] A fase Uruguai, que sucede a primeira cronologicamente, data de 11 555 a 8640 anos A.P. e é composta por raspadores, facas bifaciais e pontas de projéteis.
[27] Em
Santa Catarina e no
Rio Grande do Sul foram localizados artefatos (facas, raspadores, pontas de flecha foliáceas) de 8500 a 6500 anos atrás, estabelecidos como
tradição Vinitu. A
tradição Humaitá, mais recente (entre 6500 e 2000 anos atrás) se estende de
São Paulo ao Rio Grande do Sul.
[2][23] Os homens dessa tradição produziram raspadores, furadores e, inclusive, zoólitos (estátuas de pedra assumindo formas animais). Outra tradição identificada no sul foi chamada de
Umbu; esta teria sido responsável pela confeccção de fogões e pontas de projéteis.
[1][18][28]Os principais sítios arqueológicos do litoral são os
sambaquis, montes de conchas de moluscos (com os quais se alimentavam as populações antigas) formados por ação humana.
[1][29][30][31] Normalmente são encontrados junto dos sambaquis esqueletos dos antigos americanos, peças líticas, restos de alimentos, etc. Grande parte dos sambaquis brasileiros se encontram cobertos pelo mar, devido às mudanças climáticas ocorridas durante o pleistoceno tardio e o holoceno. Os sambaquis existem em quase todo o litoral brasileiro. Na época de sua descoberta, no século XIX, foram comparados com estruturas semelhantes existentes na
Escandinávia. Os sambaquis são associados à
tradição Itaipu. Os povos que habitavam o
litoral são normalmente definidos como pescadores semi-nômades.
[1][32]Arcaico recente do sul à região nordeste (4000 a.p. até 1500 d.C.)
O aparecimento de plantas cultivadas em
Minas Gerais data de 4 mil anos atrás.
[33] Em
São Raimundo Nonato, a agricultura parece ter sido praticada desde há pelo menos 2090 anos. Embora a
cerâmica amazônica seja mais antiga que a agricultura, o mesmo fenômeno não ocorre no resto do país, onde a cerâmica mais antiga data de 3 mil anos atrás (na área de São Raimundo Nonato). Arqueólogos brasileiros consideram que o surgimento da cerâmica nas regiões em questão está ligado ao sedentarismo e à
agricultura, uma vez que a cerâmica é de difícil transporte e, normalmente, teve a função de armazenar víveres. A
tradição Taquara-Itaré é talvez a mais estudada tradição de cerâmica do país.
[1]Período pré-cerâmico (Amazônia) (12000 - 3000 ap)

Alguns especialistas, como Eduardo Goes Neves, argumentam que paisagens da Floresta Amazônica (acima) teriam sido moldadas pela ação dos povos pré-cabralinos.
[34]. Na imagem,
geoglifos em terras desmatadas na floresta amazônica do
Acre.
As datações mais antigas da região amazônica atribuem aos primeiros habitantes da região datas como 12500 a.C. É provável que o território já houvesse sido colonizado anteriormente, mas apenas o avanço da pesquisa na
Amazônia poderá confirmar essa hipótese. Os arqueólogos identificam um desenvolvimento da técnica de lascar pedras, começando pelo lascamento por percussão e seguindo para o lascamento por pressão. As mudanças nas técnicas de lascamento são associadas a diferentes modalidades de caça, uma voltada para os animais de grande porte, e outra para os animais de pequeno porte. Nada, contudo, é certo sobre o estilo de caça dos antigos povos amazônicos. Os estudiosos acreditam que esses povos se alimentavam de
moluscos (observação baseada na descoberta de sítios como os sambaquis), pequenos animais e frutos. Os
sambaquis continuam sendo os principais sítios arqueológicos desse período na Amazônia.
[35]Agricultura amazônica
Novas pesquisas em
Rondônia atribuem uma antiguidade muito maior à prática da agricultura na
Amazônia. De acordo com o arqueólogo Eduardo Bespalez, a agricultura amazônica pode chegar a 8000 anos, uma data próxima dos primeiros registros de agricultura no mundo. Além disso, o sítio arqueológico de Garbin reforça a tese de Ana Roosevelt de que a cerâmica não esteve associada, nas suas origens, à agricultura. Os arqueólogos brasileiros encontraram apenas indústria lítica associada à terra preta (principal indício da prática de agricultura na região). As novas descobertas podem jogar luz sobre os mistérios que envolvem desde o significado de sociedades complexas na Amazônia até as origens da
Floresta Amazônica, possivelmente antropogênica.
[36] De acordo com o arqueólogo Marcos Pereira Magalhães, "A Cultura Neotropical Amazônica é o resultado de um acontecimento histórico regional de longa duração, derivada da Cultura Tropical desenvolvida por sociedades de caçadores-coletores integradas social, cultural e economicamente aos recursos da floresta tropical neotropical, com a qual interagiam objetiva e subjetivamente."
[37]Período cerâmico incipiente: 3000 - 1000 a.C.
Durante essa época os povos amazônicos adotaram um estilo de vida similar ao estilo de vida adotado por muitas tribos do território atualmente. Assim, os
indígenas teriam vivido em estado de relativa fixação, realizando a
horticultura de raízes. Esses grupos desenvolveram a primeira
cerâmica elaborada da América, com temas geométricos e zoomórficos, pinturas em tinta branca e vermelha.
[38] Os vasos assumiram formatos ovais e circulares. Os grupos de estilos cerâmicos mais conhecidos são chamados de
Hachurado Zonado e
Saldóide Barrancóide. O último é relacionado a incisões e pinturas em vermelho e branco, enquanto o primeiro à preferência pelo hachurado zonado.
[1] Cerâmicas do estilo Saldóide, encontradas no baixo e médio Orenoco, parecem terem sido criadas entre 2800 a 800 a.C. Os estilos Hachurados Zonados de Tutoshcainyo e Ananatuba datam, respectivamente, de cerca de 2000-800 a.C. e 1500-500 a.C. Muitos estudiosos admitiram que essa cerâmica tenha sido influenciado pelos complexos culturais andinos, embora hoje já se admita que os indígenas da
Amazônia tenham desenvolvido essa cerâmica elaborada na própria região baixa, tendo provavelmente influenciado os
Andes posteriormente.
[1]Essas sociedades praticavam, além da horticultura, caça e pesca. O consumo de
mariscos foi reduzido, e esses povos passaram a se instalar nas várzeas e margens dos rios. Assadeiras de cerâmica grossa foram identificadas nesses territórios, de forma que alguns arqueólogos aventam a hipótese da presença da
mandioca. Sítios desses complexos culturais foram encontrados na bacia do
Ucayali, na
ilha de Marajó, no
Orenoco e no
Amazonas.
[1]Cacicados complexos da Amazônia: 1000 a.C. – 1500 d.C.
O aumento demográfico das populações amazônicas na época da
Pré-História tardia, combinado a outros fatores, suscitou grandes transformações entre as sociedades indígenas da
Amazônia.
[39] Segundo arqueólogos, as sociedades que habitavam regiões da
bacia amazônica passaram a se organizar de forma cada vez mais elaborada entre o ano 1000 a.C. e o ano 1000 d.C. .
[1] Os arqueólogos definem estas sociedades como “cacicados complexos”.
[40] Essas sociedades tornaram-se cada vez mais hierarquizadas (provavelmente contendo nobres, "plebeus" e servos cativos), constituíram chefias centralizadas na figura do
cacique, e adotaram posturas belicosas e expansionistas. O cacique, além de dominar amplos territórios, organizava continuamente seus guerreiros visando conquistar novos territórios. A
cerâmica dessas sociedades era altamente elaborada, demonstrando um domínio de técnicas complexas de produção. Havia urnas funerárias elaboradas (associadas ao culto dos chefes mortos),
comércio e os indícios arqueológicos apontam uma densidade demográfica de escala urbana nessas civilizações.
[41] Acredita-se que a
monocultura era praticada, além da caça e da pesca intensivas, a produção intensiva de raízes e o armazenamento de alimentos.
[42] Segundo a pesquisadora Anna Roosevelt, "O desenvolvimento da agricultura intensiva nos tempos pré-históricos parece ter estado correlacionado à rápida expansão das populações das sociedades complexas. Sugestivamente, os deslocamentos e o despovoamento do período histórico aparentemente fizeram com que estas economias retornassem aos padrões de cultivo menos intensivo de raízes e à captura de animais (...)."
[43]Crônicas do início do
período colonial são hoje empregadas na reconstrução das antigas civilizações brasileiras. Muitos cronistas estrangeiros descreveram elementos indígenas do período dos cacicados complexos. A dissolução dessas organizações sociais normalmente é relacionada à conquista, que teria abalado sua estrutura demográfica.
[44]
Cerâmica complexa da fase marajoara, na
Ilha de Marajó. No caso, uma urna funerária.
A cerâmica produzida por estas civilizações é classificada em dois grupos principais: o
Horizonte Policrômico e o
Horizonte Inciso Ponteado. Entre os sítios arqueológicos que apresentaram vestígios agrupados sob o Horizonte Policrômico estão: os Marajoaras (foz do Amazonas) e o Guarita (Médio Amazonas), entre outros localizados fora da Amazônia brasileira. Entre os sítios arqueológicos associados ao Horizonte Inciso Ponteado encontram-se:
Santarém (Baixo Amazonas) e
Itacoatiara (Médio Amazonas). O primeiro horizonte é caracterizado pelas pinturas brancas, pretas e vermelhas, pelos temas geométricos e pelas incisões. O segundo horizonte é caracterizado pelas incisões profundas e pela técnica de ponteação. Acredita-se que o
Horizonte Inciso Ponteado estivesse associado aos antepassados dos povos de língua Karib, enquanto o
Horizonte Policrômico teria sido produzido pelos antepassados dos povos de língua
Tupi.
Os grandes sítios amazônicos da época dos cacicados complexos parecem ter tido regiões especializadas para o enterro, o culto, o trabalho e a guerra. A ocupação pré-histórica tardia do território era
sedentarizada. A entrada do
milho e de outras sementes na região, assim como sua popularização entre os americanos, data do primeiro milênio antes de
Cristo.
[45]Kuhikugu (1500 a.p. - 400 a.p.)
Uma das civilizações amazônicas conhecidas por ter desenvolvido grandes
cidades e vilas durante o período Pré-Colombiano foi a de Kuhikugu.
[46] O sítio arqueológico de Kuhikugu, descoberto pelo arqueólogo Michael Heckenberger, se localiza dentro do
Parque Nacional do Xingu (região do alto
Xingu), e provou ter sido um grande complexo urbano que pode ter abrigado até 50 000 habitantes. Construído provavelmente pelos antepassados dos atuais povos
Kuikuro, o sítio abriga construções complexas como
estradas, fortificações e
trincheiras para proteção. Como a descoberta é recente, estudos sobre as formas de vida dessas populações ainda são necessários, embora os estudiosos acreditem que esse povo cultivava a
mandioca.
[47] O desaparecimento dessa civilização, assim como de outras grandes civilizações amazônicas, é relacionado à entrada de doenças europeias no continente, responsáveis por dizimar as populações locais, por volta do ano 1500 de nossa era. As características naturais da Floresta Amazônica (mata densa etc.) explicariam porque os antigos europeus não travaram conhecimento com esta civilização brasileira.
[48]Monte de Teso dos Bichos (400 a.C. - 1300 d.C.
O Monte de Teso dos Bichos, localizado na
Ilha de Marajó, é o local onde floresceu uma das mais elaboradas civilizações da Amazônia pré-cabralina, ocupando 2,5 hectares. Com uma população estimada em 500 mil pessoas, os habitantes dessa civilização pertenciam a uma sociedade de tuxauas, senhores da foz do Amazonas. Havia divisão do trabalho entre homens e mulheres, uma dieta rica em proteína animal e vegetal e refrescos fermentados (como o aluá).
[49]Uma das características marcantes das sociedades complexas da
Ilha de Marajó são os "tesos", aterros artificiais de grande porte construídos para a colocação de habitações, provavelmente visando evitar inundações. Os tesos marajoaras são considerados estruturas monumentais e, por esse motivo, são essenciais para a interpretação do passado marajoara.
[50] Em outubro de 2009, um grupo de geólogos alegou que os "tesos" poderiam ser construções naturais, hipótese que invalidaria parcialmente as interpretações acerca da existência de sociedades complexas na Amazônia.
[51] No entanto, arqueólogos de renome como André Prouss e Anna Curtenius Roosevelt, questionaram a competência da equipe de geológos e afirmaram que apenas arqueólogos possuem os instrumentos técnicos para verificar indícios de atividade humana.
Principais sítios arqueológicos
Alice Boer
O sítio Alice Boer se localiza em
Ipeúna, município próximo a Rio Claro, em
São Paulo. Foi escavado por iniciativa da arqueólogos Maria Beltrão a serviço do Museu Nacional a partir de 1964. Os primeiros brasileiros da região parecem ser muito antigos e produziram artefatos como pontas de projéteis, raspadores e lesmas. Uma amostra de carvão deste sítio forneceu a data de 14200 anos.
[52][53]Abismo da Ponta de Flecha
O sítio Ponta de Flecha foi escavado entre 1981 e 1982 por C. Barreto e E. Robrahn. Os achados do sítio – entre eles pontas de flecha e ossos – datam tanto da época pleistocênica quanto holocênica. Os ossos de animais encontrados foram marcados por instrumentos líticos humanos.
[54]Pedra Pintada
Os brasileiros pré-históricos daquela região sustentaram-se com uma economia estável e produziram uma cultura e tecnologias bastante superiores às de seus primos da
América do Norte. Os paleoíndios moraram em cavernas confortáveis e protegidas, tinham uma dieta mais saudável e produziram cerâmicas, pinturas rupestres e pontas de flechas. Eles eram caçadores de pequenos animais e coletores de frutas. No auge de sua civilização, chegaram a abrigar cerca de 300 000 indivíduos.
Foram encontradas pontas de lança e cacos de cerâmica datados de 6.000 a 10.000 anos. Os resultados concluíram que os paleoíndios (os primeiros habitantes das Américas) viveram na
região amazônica de 11,2 a 10.000 anos atrás. São provas convincentes de que a ocupação humana na
América se deu há mais de 20.000 anos.
Ainda assim, as descobertas de Roosevelt ainda não refutaram totalmente a hipótese da chegada dos primeiros habitantes da América pelo
Estreito de Bering. O movimento migratório teria ocorrido em levas sucessivas. As populações amazônicas, cujos sinais encontrou na caverna da Pedra Pintada, provavelmente migraram para o sul sem ter tido contato com os caçadores de mamutes americanos.
Pedra Furada

Pinturas do sítio de Pedra Furada.
O sítio arqueológico de
Pedra Furada, localizado em
São Raimundo Nonato, no
Parque Nacional da Serra da Capivara,
Piauí, foi encontrado na década de 60. Ele vem sendo estudado, desde os anos 70, por
Niède Guidon, uma arqueóloga franco-brasileira. Os achados (pedras
lascadas e vestígios de fogueiras) datam de aproximadamente 11.000 anos. Segundo a equipe, não é impossível que os achados possam ter até 48.000 anos. A tese de Guidon vai bem mais longe - cerca de 100 mil anos - e pressupõe que o homem não teria chegado à América vindo da Ásia por terra (via estreito de Bering como se acredita até hoje) e sim, pelo mar, já se utilizando de embarcações. Contudo, as descobertas de São Raimundo Nonato permanecem controversas e ainda não refutam totalmente a
Teoria Clóvis.
O sítio também abriga o
Museu do Homem Americano. Painéis iluminados e auto explicativos contam a história da presença do homem na América com desenhos, mapas e textos. O espaço também guarda urnas funerárias em argila e réplicas de dois esqueletos humanos encontrados em cavernas da região. Um deles, uma índia de cerca de 30 anos de idade foi encontrado praticamente completo e data de 9,7 mil anos.
Também na região foram encontrados desenhos na
Toca do Boqueirão, também em Pedra Furada, que parecem representar uma cena de ataque dos terríveis
felinos que já habitaram o continente. As concepções dos atuais
índios que habitam a região nordeste do país, a exemplo dos
cariris, apesar de bastante modificadas, ainda podem se constituir num elemento útil para decifrar tais representações com uma estratégia conjetural. Uma interpretação sobre os desenhos da figura humana desses povos revela uma surpreendente complexidade que pode muito bem corresponder a um mapa das sensações corporais e/ou uma concepção de corpo e espírito. Os
encantados são descritos pelos
cariris, em geral, como homens descomunais, ferozes e implacáveis, de feição rude e olhos esbugalhados, verdadeiramente assustadores, segundo o
antropólogo Nascimento, que estudou em sua tese para Mestrado na
Universidade Federal da Bahia os rituais e identificação étnica dos índios do nordeste a partir das concepções de um grupo remanescente - os cariris de
Mirandela, (
Bahia) em 1994.ela foi fundida em raimundo nonato.
Lagoa Santa
Em 1974, na Lapa Vermelha IV durante a escavação da equipe de
Annette Laming-Emperaire, foi descoberto um esqueleto humano datado em 11,5 mil anos Antes do Presente, o mais antigo da
América, posteriormente apelidado de
Luzia. Ela colocou ainda mais dúvidas sobre a
Teoria Clóvis, já que é uma mulher com características bem distintas dos indígenas atuais (que são mais próximos do grupo epigenético mongolóide). Luzia foi investigada pelos bioantropólogos e arqueólogos
Walter Alves Neves,
André Prous, Joseph F. Powell, Erik G. Ozolins e Max Blum.
[58]Período pré-cabralino Recente
Enquanto a maior parte da pesquisa sobre o
Brasil mais antigo analisava principalmente os
vestígios materiais deixados por esses povos, o
Brasil pré-cabralino recente costuma ser estudado através das
línguas nativas. Com efeito, o estudo sobre as
línguas nativas permite compreender inúmeros aspectos das culturas pré-cabralinas, além de seus parentescos históricos e de suas
migrações. Quando os cronistas
europeus descreveram os antigos povos
brasileiros, utilizaram sobretudo denominações linguísticas e, graças ao trabalho missionário de alguns
jesuítas, temos hoje conhecimento das antigas línguas brasílicas (que deram origem às línguas indígenas modernas).
Resta-nos, contudo, a tarefa de associar os achados antigos aos povos recentes, que conhecemos principalmente a partir de
grupos linguísticos. Um estudo desse tipo não foi realizado no Brasil ainda. Apenas um grupo pré-cabralino recente foi associado suficientemente aos achados antigos: os grupos da família linguística
Tupi-Guarani. Estes, na época da chegada dos europeus, dominavam o atual
litoral brasileiro, conhecido por "
Pindorama". Outra fonte importante para a reconstrução da história recente dos povos pré-cabralinos é a
mitologia indígena. Sabe-se hoje ser possível estabelecer relações entre os elementos dos
mitos e acontecimentos que consideramos "históricos". As fontes mitológicas tem sido empregadas para estudar movimentos migratórios,as relações estabelecidas entre os povos brasileiros e, por exemplo, o Império Inca, etc.
Quando os europeus passaram a ocupar a costa oriental da
América do Sul, encontraram etnias vinculadas a quatro principais grupos linguísticos: os
arauaque, os
tupi-guaranis,os
jê e os
karib.
[59] Devemos tomar cuidado para não confundir grupo linguístico com grupos étnicos. Dentro de um mesmo grupo linguístico havia numerosas e diferentes unidades identitárias possuindo dialetos, práticas culturais e filosofias próprias. Nosso conhecimento dos povos indígenas por meio das crônicas europeias é limitado por diversas razões.
A primeira delas, é que a imagem europeia sobre os povos pré-cabralinos foi marcada por um processo de enquadramento da
América em categorias europeias, de forma que as crônicas nos fornecem informações mais valiosas para o estudo dos próprios europeus modernos do que para o estudo dos nativos. A segunda delas, é que as crônicas foram escritas numa época de transformação, uma vez que a entrada dos europeus trouxe doenças e influências novas para o mundo indígena, modificando consideravelmente a antiga realidade em que viviam. Por fim, as crônicas acompanham o avanço da "
fronteira" europeia na América, de forma que grande parte dos povos indígenas só chegaram a ser conhecidos pelos ocidentais no século XIX, após terem modificado muitos de seus costumes; é interessante notar que muitas tribos indígenas no Brasil continuam isoladas do mundo ocidental até hoje.
Um dos grandes grupos linguísticos do
Brasil, e que parece ter se expandido imensamente sobre o território brasileiro antes de 1500, é o grupo
tupi. A principal família linguística dentro desse grupo maior é a
tupi-guarani. Esses povos devem ter primeiramente habitado a região das cabeceiras dos rios
Madeira,
Tapajós e
Xingu. A expansão tupi-guarani aconteceu há 3 mil e 2 mil anos, pouco depois de esse grupo ter se diferenciado de outros na região entre o Xingu e o Madeira, formando novos subgrupos linguísticos, como os
cocamas,
omáguas,
guaiaquis e
xirinós. Os povos de línguas
cocama e omágua dirigiram-se ao
rio amazonas, enquanto os guaiaquis chegaram ao
Paraguai e os xirinós à
Bolívia.
Tapirapés e
tenetearas deslocaram-se em direção ao nordeste. Os povos de línguas
pauserna,
cajabi e
camaiurá deslocaram-se até a região extremo sul do Brasil.
Os povos de
língua oiampi chegaram até a região das
Guianas. A última fase de dispersão dos povos tupi-guaranis ocorreu por volta do ano 1000. Os falantes de línguas associadas à família tupi-guarani estariam já instalados no sul do Brasil (
guaranis etc.), na bacia amazônica e também no litoral do Brasil (
potiguares,
tupinambás,
tupiniquins). Os dados linguísticos nos permitem avaliar essas sociedades como expansivas e em constante movimento. Graças a uma impressionante rede de caminhos fluviais, os povos desse grupo linguístico puderam se difundir e, ao mesmo tempo, manter contato uns com os outros. O uso de canoas (
ygara em
tupi antigo) para navegar rios permitia o enviamento de missões militares e diplomáticas de uma região para outra.

Mapa do Brasil mostrando os principais povos indígenas à época do descobrimento.
Muitos artefatos arqueológicos do período cerâmico são filiados a esses antigos povos de matriz linguística tupi-guarani. Os sítios arqueológicos associados a essas populações constituíam-se em aldeias extensas, normalmente localizadas em regiões de planalto ou em terraços. Nesses
sítios arqueológicos, de largura média entre 2 000 e 10 000 metros quadrados, a cerâmica antiga é abundante. As unidades habitacionais são cabanas, que podiam alcançar até 60 metros quadrados de diâmetro. Dentro dessas cabanas, foram localizados
fogueiras e
fornos para cozimento.
As áreas dos sítios são definidas em espaço cerimonial, público e residencial. O espaço dos vivos é separado daquele dos mortos (muitos
cemitérios antigos foram localizados). A arqueologia identificou sepultamentos em urnas e outros em terra. Artefatos líticos são encontrados junto dos sepultamentos, provavelmente objetos de uso pessoal. A cerâmica gupi-guarani (particularmente abundante no
Paraná) é caracterizada pelos desenhos
policrômicos de traços lineares.
A cronologia para a
história dos povos tupis-guaranis se baseia em teorias arqueológicas, na
glotocronologia e na datação de cerâmicas identificadas aos tupis-guaranis. Como vimos pela história dos tupis-guaranis a partir de suas línguas, o movimento de expansão ocorreu entre 3 mil e 2 mil anos atrás a partir da região amazônica; a maior parte dos artefatos arqueológicos desses povos são datados entre o ano 500 e o ano 1500. A época da expansão para o
litoral é constatada pela maior concentração de artefatos nessa região entre os séculos XI e XIII.
Macro-Jê
As línguas associadas à matriz linguística Macro-
Jê devem ter sofrido diferenciação por volta de 6 mil anos atrás. Sua expansão inicia-se há 3 mil anos, pela
Região Centro-Oeste do Brasil. O grupo Jê propriamente dito é possivelmente originário das regiões das nascentes dos rios
São Francisco e
Araguaia. Grande parte dos povos de língua Jê se afastaram dos
Kaingang e
Xokleng, seguindo para o sul da região central brasileira. Alguns grupos devem ter se separado destes últimos e seguido até a região amazônica há pelo menos mil anos. Os povos Jês preferiam se instalar em regiões de Planalto (como a original região do Planalto brasileiro), como nos permite constatar o estudo de suas línguas Entre as línguas do tronco Macro-Jê encontram-se:
Kayapós,
Xerentes,
Timbiras, etc.
Caraíbas
Os povos de língua
caraíbas também passaram por um processo de expansão há 3 mil anos, aproximadamente. Essa família linguística é talvez originária da atual região das
guianas e do extremo norte do
Brasil. Os Yukpa e os Karijona, ramificações dessa família linguística, teriam se diferenciado e migrado para a
Colômbia, enquanto os Bakairi teriam seguido para o centro do Brasil. O empréstimo de termos Tupi nas línguas Karib (e vice-versa) aponta para a existência de redes complexas de
comércio e tráfico de pessoas entre tais povos.
Aruaque e outros
As línguas de matriz
aruaque concentram-se hoje na região sudoeste da
Bacia amazônica. A principal família linguística associada a esse grupo é a
Maipure, dividida em quatro subgrupos regionais. Existe grande polêmica em relação às origens, às migrações e aos descendentes desses povos, além de suas relações com outros grupos linguísticos do Brasil Antigo. Outros grupos linguísticos menores, sem parentescos com os outros maiores, existem no
Brasil:
Mura,
Chapkura,
Pano,
Yanomani, etc.
Pindorama

Distribuição dos grupos de língua tupi e não tupi (tapuia) na costa de
Pindorama, no século XVI.
Na véspera da chegada dos europeus à América em 1500, calcula-se que o atual território do
Brasil (a costa oriental da América do Sul) fosse habitado por dois milhões de indígenas, do norte ao sul.
[60]Segundo Luís da Câmara Cascudo, os
tupis foram o primeiro agrupamento "indígena que teve contacto com o colonizador".
[61] A influência tupi se deu na alimentação, no idioma, nos processos agrícolas, de caça e pesca, nas superstições, costumes, folclore, etc. Os povos do grupo Tupi-Guarani habitavam a região chamada por eles de "
Pindorama" (terra das palmeiras), atual região oriental da
América do Sul, que habitava o imaginário
Tupi-Guarani como terra mítica, uma terra livre dos males. Os arqueólogos acreditam que o mito acerca de "Pindorama" tenha se formado na época das antigas migrações, quando os
Tupi-Guaranis se dirigiram para o litoral brasileiro.
[62]Sabemos os nomes de alguns dos principais grupos que habitavam Pindorama na véspera da chegada europeia (entre eles alguns de origens não-tupi): os
potiguaras, os
tremembés, os
tabajaras, os
caetés, os
tupiniquins, os
tupinambás, os
aimorés, os
goitacás, os
tamoios, os
carijós e os
temiminós. Os potiguaras habitavam a região entre o
Rio Acaraú e o
Rio Paraíba e controlavam a navegação fluvial. Durante a conquista, aliaram-se aos franceses, sendo que alguns relatos falam de casamentos entre potiguaras e
franceses, envolvendo acordos bélicos anti-
portugueses. Os Tabajaras habitavam a margem meridional do rio Paraíba, na região atual do litoral pernambucano. Foram importantes aliados dos portugueses durante a conquista. Os Caetés habitavam a região de
Pernambuco desde
Olinda, "a Marim dos Caetés", até onde encontra-se hoje o estado de
Alagoas, desmembrado de Pernambuco. Tornaram-se célebres na
História do Brasil por terem devorado o Bispo Sardinha.
Os Tremembés habitavam a margem ocidental do rio Acaraú. Os tamoios habitavam a
Baía da Guanabara; seus líderes,
Cunhambebe e Aimberê, aliaram-se com os franceses no combate aos portugueses. Os carijós habitavam o litoral sul do país. Os tupiniquins habitavam a atual região do Estado de
São Paulo, e os Tupinambá a região sudeste do
Brasil. Nosso conhecimento do
tupi antigo é principalmente baseado na língua dos Tupinambás (embora esses não constituíssem os "principais tupis", como alguns autores apontam).
Os povos tupis viviam em aldeias que reuniam de 600 a 700 habitantes. Algumas aldeias eram fortificadas em razão das guerras inter-tribais. Nenhuma autoridade aparecia com força absoluta ou consideravelmente forte sobre os outros integrantes da sociedade, embora houvesse "hierarquias" em função do gênero, do mérito guerreiro e dos poderes xamânicos. Os Pajés (Payes em tupi antigo, intermediários entre o mundo religioso e o mundo dos homens) e os Caciques (morubixaba em tupi antigo, chefes guerreiros) ocupavam, em geral, o papel de autoridades das tribos.
[2][63] A subsistência baseava-se na caça e na horticultura. Os homens acreditavam nos bons e nos maus espíritos (tupã, anhang, etc.), que influenciavam os acontecimentos no cosmos. Cada homem trazia um maracá, no qual acreditavam habitar um espírito protetor de cada indivíduo. Acredita-se que apenas os filhos dos homens mais importantes da tribo fossem enterrados nas urnas funerárias. Os acontecimentos religiosos tinham alcance amplo, e reuniam diferentes etnias. Os antigos indígenas foram responsáveis por inúmeras manifestações artísticas, como peças de
cerâmica, danças, canções/poesia (registradas por
Léry) e, a que mais impressionou os ocidentais, a plumária extremamente sofisticada e rica.
[64] A
Literatura Tupi aparece com a chegada da escrita europeia, quando missionários passam a escrever em tupi para converter os nativos, e as crônicas transcrevem canções indígenas.
[65]Toponímias
A permanência de nomes tupis (
tupi antigo, nhe'enga tupi ou
língua geral) para nomear diversas regiões do
Brasil atual é um indicador da influência da língua indígena na
cultura brasileira. Os historiadores de
Brasil Colonial concordam que até o século XVIII o
tupi era provavelmente a língua mais falada em algumas regiões da
América Portuguesa. Nomes de regiões, rios e cidades brasileiras têm suas raízes no período de
Pindorama, e no período colonial. Alguns exemplos:
- Guaratinquetá = gûyrá-tinga-etá = Muitas Garças
- Jacareí = îakaré 'y = Rio dos Jacarés
- Piraguá = Pira Kûá = Baía dos Peixes
- Araraquara = Arara Kûara = Toca das Araras
O Brasil pré-cabralino e a Europa
Do lado europeu, a descoberta do Brasil foi precedida por vários tratados entre
Portugal e
Espanha, estabelecendo limites e dividindo o mundo já descoberto do mundo ainda por descobrir.
Destes acordos assinados à distância da terra atribuída, o
Tratado de Tordesilhas (
1494) é o mais importante, por definir as porções do globo que caberiam a Portugal no período em que o Brasil foi colônia portuguesa.
[66] Estabeleciam suas cláusulas que as terras a leste de um
meridiano imaginário que passaria a 370
léguas marítimas a oeste das ilhas de
Cabo Verde pertenceriam ao rei de Portugal, enquanto as terras a oeste seriam posse dos reis de
Castela (atualmente Espanha). No atual território do Brasil, a linha atravessava de norte a sul, da atual cidade de
Belém do Pará à atual
Laguna, em
Santa Catarina.
Quando soube do tratado, o rei de França
Francisco I teria indagado qual era "a cláusula do testamento de
Eva" que dividia o planeta entre os reis de Portugal e Espanha e o excluía da partilha.
Ver também
Referências
- ↑ Ir para:a b c d e f g h i j k l m n o p q r Manuela Carneiro da Cunha (2008). «História dos Índios no Brasil».
- ↑ Ir para:a b c d e f g h i j k l m n o André Prous. «Arqueologia brasileira».
- Ir para cima↑ Angyone Costa (1980). «Introdução à arqueologia brasileira»
- ↑ Ir para:a b c Ambiente Brasil. «Arqueologia no Brasil»
- Ir para cima↑ Museu Goeldi «Linha do Tempo: Museu Emílio Goeldi» Verifique valor
|url= (ajuda) - Ir para cima↑ «Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo»
- Ir para cima↑ Museu de Arqueologia e Etnologia. «Quantos anos tem o Brasil?».
- Ir para cima↑ «Projeto Nacional de Pesquisas Arqueológicas»
- Ir para cima↑ «IPHAN».
- Ir para cima↑ Instituto Anchietano de Pesquisas (2009). «Construindo a arqueologia no Brasil: a trajetória da Sociedade de Arqueologia Brasileira»
- Ir para cima↑ «Sociedade de Arqueologia Brasileira»
- Ir para cima↑ Nina G. Jablonski (2002). «The First Americans» (em inglês).
- Ir para cima↑ «Sítio Arqueológico Alice Boer»
- Ir para cima↑ FUNDHAM. «Parque Nacional Serra da Capivara»
- Ir para cima↑ Claudio Angelo (21 de março de 2005). «Crânios sugerem que povo de Luzia habitou México e São Paulo». Folha de S.Paulo
- Ir para cima↑ Gabriela Martin (1997). «Pré-história do Nordeste do Brasil»
- Ir para cima↑ Águeda Vilhena Vialou (2006). «Pré-história do Mato Grosso: Cidade de Pedra - Página 202»
- ↑ Ir para:a b c d e f Índios do Brasil (2007). «índios do Brasil».
- Ir para cima↑ «Luzia»
- Ir para cima↑ «Who were the first americans? National Geographic» (em inglês). Consultado em 11 de janeiro de 2012
- Ir para cima↑ Walter Alves Neves & Luís Beethoven Piló. «O Povo de Luzia».
- Ir para cima↑ «Primeiros brasileiros eram sedentários, sugerem pesquisas. Folha de S.Paulo, 21 de outubro de 2009»
- ↑ Ir para:a b c «Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia». Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia.
- Ir para cima↑ Leandro Augusto Franco Xavier (2007). «Arqueologia do Noroeste Mineiro: análise de indústria lítica da bacia do Rio Preto - Unaí, Minas Gerais, Brasil». USP
- Ir para cima↑ «Pinturas Rupestres na Serra da Capivara»
- Ir para cima↑ Folder da Fumdham. «Inscrições rupestres: Serra da Capivara»
- Ir para cima↑ André Luis Ramos Soares (2005). «Contribuição à Arqueologia Guarani: estudo do Sítio Röpke»
- Ir para cima↑ Solange Nunes de Oliveira Schiavetto (2003). «A arqueologia guarani»
- Ir para cima↑ Guilherme Schuch de Capanema (1876). «Os sambaquis»
- Ir para cima↑ Madu Gaspar (2000). «Sambaqui: arquelogia do litoral Brasileiro»
- Ir para cima↑ Paulo Duarte (1968). «O sambaqui: visto através de alguns sambaquis»
- Ir para cima↑ Anna Curtenius Roosevelt (1991). «Moundbuilders of the Amazon»
- Ir para cima↑ Rossano L. Bastos e Pedro Funari. «Handbook of South American Archaeology: Public Archaeology and Management of the Brazilian Archaeological-Cultural Heritage»
- Ir para cima↑ Marcos Pereira Magalhães. 12 - artigo 1.pdf «Evolução antropomorfa da Amazônia» Verifique valor
|url=(ajuda) (PDF) - Ir para cima↑ Betty Jane Meggers, Clifford Evans (1974). «A reconstituição da pré-história amazônica»
- Ir para cima↑ «Agricultura Amazônica pode chegar a oito mil anos».
- Ir para cima↑ Marcos Pereira Magalhães. «Evolução antropomorfa da Amazônia» (PDF)
- Ir para cima↑ Denise Maria Cavalcante Gomes (2002). «Vasilhas da coleção tapajônica MAE-USP». USP
- Ir para cima↑ John Roach. «Ancient Amazon Cities Found; Were Vast Urban Network»
- Ir para cima↑ Anna Roosevelt (1997). «Amazonian Indians from Prehistory to the Present»
- Ir para cima↑ Discovery News. «Ancient Amazon Civilization»
- Ir para cima↑ Monica Trindade e Mauricio Paiva. «Amazonia Antiga»
- Ir para cima↑ Anna Curtenius Roosevelt. «Arqueologia Amazônia»
- Ir para cima↑ «História da América Latina: América Latina Colonial»
- Ir para cima↑ Anna Roosevelt, http://www.acroosevelt.net/
- Ir para cima↑ «Povo Kuikuro»
- Ir para cima↑ M. Heckenberger. «Amazônia»
- Ir para cima↑ «Lost Amazon Cities». Scientific American
- Ir para cima↑ Márcio Souza. «Breve história da Amazônia»
- Ir para cima↑ «IstoÉ Amazônia»
- Ir para cima↑ «Povos antigos não fizeram aterros no Pará, diz grupo». Folha de S.Paulo. 19 de outubro de 2009
- Ir para cima↑ «A Pré-História Brasileira» (PDF)
- Ir para cima↑ Adriana carvalho Koyama (2006). «O povoamento da região de Indaiatuba e os Guarani»
- Ir para cima↑ «Revista de pré-história». USP. 1979
- Ir para cima↑ Alenice Maria Motta Baeta. «Os grafismos rupestres e suas unidades estilísticas no Carste de Lagoa Santa e Serra do Cipó - MG». 2011
- Ir para cima↑ Francisco Antonio Pugliese Junior (2008). «Os líticos de Lagoa Santa: um estudo sobre organização tecnológica de caçadores-coletores do Brasil Central». USP
- Ir para cima↑ Andre Menezes Strauss (2010). «As práticas mortuárias dos caçadores-coletores pré-históricos da região de Lagoa Santa (MG): um estudo de caso do sítio arqueológico "Lapa do Santo"»
- Ir para cima↑ Neves, Walter A.; Joseph F.. . "Lapa vermelha IV Hominid 1: morphological affinities of the earliest known American". Genetics and Molecular Biology 22 (4): 461-469. DOI:10.1590/S1415-47571999000400001. ISSN1415-4757.
- Ir para cima↑ «Panorama das Línguas Indígenas da Amazônia»
- Ir para cima↑ Francisco S. Noelli. «Os Antigos Habitantes do Brasil» (PDF)
- Ir para cima↑ CASCUDO, Luís da Câmara, Dicionário do folclore brasileiro, p. 865 do volume II.
- Ir para cima↑ «Pindorama»
- Ir para cima↑ Estudos etnológicos, que partem de dados obtidos entre comunidades indígenas brasileiras em alguns casos, apontam para a virtual inexistência de um poder político separado do grupo nas sociedades ditas simples(isto é, sociedades sem Estado), de forma que o "chefe" é meramente um representante da coletividade do grupo e não possui poder efetivo. Nesse caso, o surgimento de sociedades mais ou menos hierarquizadas na época da conquista pode estar relacionada ao próprio impacto da chegada dos portugueses, se acreditarmos que as comunidades indígenas brasileiras se organizavam como "sociedades simples" no período imediatamente posterior à colonização. A dinâmica interna da história pré-cabralina também pode ser invocada para explicar determinadas transformações. Cf. análises do trabalho de Pierre Clastres «A Socialidade contra o Estado: a antropologia de Pierre Clastres»(PDF)«Reflexões sobre a contribuição de Pierre Clastres à Antropologia Política» (PDF)
- Ir para cima↑ «arqueologia brasileira»
- Ir para cima↑ «Academia Brasil-Europa»
- Ir para cima↑ LIMA, Oliveira. Descobrimento do Brasil. in: Livro do Centenário (1500-1900) (v. III). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902.
Bibliografia
- Arqueologia Brasileira - ANDRÉ PROUS - 2ª ed. (2002), 1ª ed. (1992) Brasília: Editora da UNB, ISBN 85-230-0316-9
- O Brasil Antes Dos Brasileiros: A Pré-História do Nosso País - ANDRÉ PROUS - (2006) - Editora: Jorge Zahar Editor Ltda., ISBN 8-571-10920-6
- Bones, Discovering the First Americans, por Elaine Dewar, Carroll & Graf Publishers, New York, 2002, hardcover - ISBN 0-7867-0979-0
- História do Brasil por Claudio Vicentini - ISBN 8526232029
- FIGUEIRA, Divalte Garcia. História. São Paulo. Ed. Ática. 2006.
Ligações externas



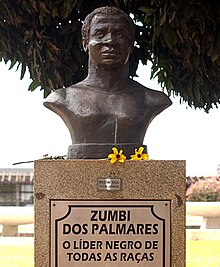








.JPG/220px-Sambaqui,_MAE-USP_(2).JPG)